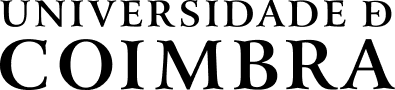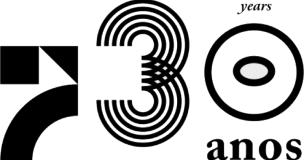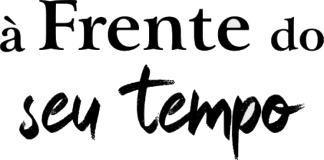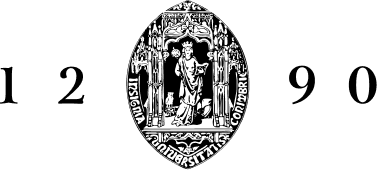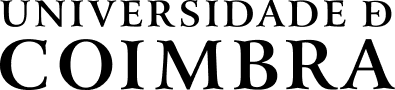Luís Reis Torgal homenageia António de Oliveira
Morreu o meu último professor… Homenagem a António de Oliveira
Não tenho do meu curso de História, na época de 1960 a 1966, ano em que defendi a tese de licenciatura, uma imagem essencialmente positiva, conforme já o disse num livro, História... Que História?, publicado pela editora Temas e Debates em 2015. A nossa ciência era então vista de uma forma “narrativista” e “acontecimental”. As cadeiras que estimulavam a minha reflexão crítica —aprendida no liceu com Alberto Martins de Carvalho — fui buscá-las particularmente à Filosofia e à História da Cultura, em que ensinavam professores, de diversas concepções, oriundos de outras áreas: Sílvio Lima (em 1935 demitido por Salazar, mas que pudera regressar nos anos 40), o qual reflectia, nas suas lições inesquecíveis, sobre os princípios da teoria da História; Miranda Barbosa, que recordo sobretudo pela forma didáctica com que nos explicava as complexas teses filosóficas, com particular menção para a fenomenologia husserliana; Miguel Baptista Pereira, com quem aprendi dentro e fora das aulas a filosofia e muitas coisas da vida; Maria Helena Rocha Pereira, que nos mostrou com rara sensibilidade e conhecimento a cultura grega; Joaquim Ferreira Gomes (também demitido no tempo de Marcello Caetano, felizmente só por breves e angustiantes dias), neste caso mais pelo convívio e pelas suas considerações críticas emitidas ao longo da vida do que nas suas aulas; e Silva Dias, o meu verdadeiro mestre, não tanto pelas aulas de História da Cultura Moderna e de História da Cultura Portuguesa, mas mais pela forma crítica como orientou as minhas primeiras pesquisas históricas.
Além disso, recordo: as aulas dadas por Luís Reis Santos, de forma (por assim dizer) “anárquica”, mas que me estimulou o gosto pela arte; as lições dadas com critério pedagógico e metódico por Manuel Augusto Rodrigues no primeiro ano em que leccionou História do Cristianismo; as aulas com sentido prático de Avelino de Jesus Costa sobre a técnica da leitura dos documentos antigos; o raro sentido de investigação cuidada e profunda de Ferrand de Almeida, pese embora a sonolência das suas aulas; e... António de Oliveira, que faleceu neste início de ano de 2021. Como morreu Carlos do Carmo, um “homem na cidade”, que me fez sentir que o fado não é apenas fatum, uma canção sobre o destino, marcado na palma da mão, mas é também o viver quotidiano da pólis, com poesia e sentido crítico. Jorge Alarcão, felizmente, está aí bem activo, como mestre de todos os arqueólogos, mas nunca foi meu professor, para mal da minha formação, nem Bairrão Oleiro, que já seguira para Lisboa. O que devo a alguns professores aqui não mencionados e que já nos deixaram foram, além do simpático convívio com alguns, apenas as condições para me tornar um autodidacta ou... um aprendiz de historiador por conta própria.
Quase todos estão esquecidos nesta onda de presentismo que nos afoga e afoga o passado que, como diria Herculano, sem ele não há presente nem futuro, porque cada um vai herdando algo de bom e de mau do pretérito, que eles próprios já são ou virão a ser. Daí que a corrente mais notória nos tempos que vivemos seja o “populismo”, triste corrente sem ideologia, boa ou má, apenas vivendo no momento e graças ao efémero (que dura apenas um dia). E de onde a História ser hoje (até quando?) uma ciência com menos impacto, embora entre as ciências sociais seja a mais antiga e a mais estruturada.
Morta ou transformada pela onda da velocidade dos dias, afirma-se menos como ciência do que como opinião. Mas há-de sobreviver, pois havemos todos, depois desta fumaça e desta pandemia (que não é apenas física), de voltar às bibliotecas e aos arquivos, sejam eles de papel, de oralidade ou digitalizados. Neste turbilhão quase só aparecem com visibilidade os historiadores jornalistas ou os jornalistas historiadores, ou os comentadores meramente opinativos de lugares comuns, ou os “escritores” que escrevem sobre história. Ou aqueles que conseguiram, por mérito próprio, ou por razões que desconhecemos, furar a barreira da comunicação em voga, e passar para o “espectáculo” televisivo ou, pelo menos, radiofónico e para os supermercados de livros.
Que me perdoem esta forma aparentemente pessimista de prestar homenagem a um verdadeiro historiador, António de Oliveira, que, apesar de me ter ensinado, com a dificuldade pedagógica de quem começa, Civilização Romana, para que foi empurrado como assistente (eu ensinei de Idade Média à Época Contemporânea), se tornou um historiador de grande e reconhecido mérito da Época Moderna. Ensinou-me, como Vitorino Magalhães Godinho, uma nova forma de análise económica e social da União Ibérica e da Restauração, que analisei na perspectiva de história das ideias na minha tese de doutoramento, orientada por Silva Dias, e mostrou-me como Coimbra ou uma Cidade Universitária se desenvolveu, estudando a sua vida económica e social, nos séculos XVI e XVII, desde a transferência dos Estudos Gerais, vindos de Lisboa, em 1537, até 1640. Felizmente ainda há historiadores que recordam esse seu trabalho fundamental, como pude com alegria verificar numa conferência que há dias ouvi de Rui Lobo, historiador da arquitectura e especialista no processo de construção e desenvolvimento dos colégios que emergiram na Cidade por essa época, num tempo em que Universidade queria significar “universalidade”, do saber e das suas instituições. Isto em contraste com algumas das “novíssimas histórias” que, usando a cosmética do “empreendedorismo”, procuram encontrar novas formas, muitas vezes bem velhas, de fazer história. Digo isto porque, há dias, folheando uma história que se quis “nova”, porque se desenrolou de trás para a frente e com datas marcantes (simples datas afinal, o que parece estar na moda), verifiquei que esqueceu, nos volumes sobre a Época Moderna, Silva Dias, que revolucionou a sua história no âmbito da ideologia dos “Descobrimentos”, do sentimento religioso e, de um modo geral, da cultura dessa época. Felizmente tal não sucedeu com António de Oliveira, embora se omitisse a sua obra mais significativa, que foi a sua tese de doutoramento. Ambos tentaram e conseguiram romper com o “narrativismo” dos anos 60 e 70. Procuraram, numa análise verdadeiramente nova, seguir correntes que se alicerçaram em França, e noutros países, porque a partir daí a história tentou ser efectivamente “global”, outra palavra mágica do actual vocabulário, em uso e abuso, que se afirma agora, mesmo que com qualidade, para se envolver no mundo do “espectáculo editorial”, que hoje caracteriza o mundo do livro.
António de Oliveira até quase ao dia 1 de Janeiro de 2021continuou a trabalhar no silêncio, não direi das bibliotecas e arquivos (a saúde primeiro e, depois, a Covid não o permitiram), mas do seu gabinete. Faleceu nesse dia 1 de Janeiro em que morreu também Carlos do Carmo, justamente lembrado e relembrado nas televisões, nas rádios e nos jornais nacionais. As homenagens prestadas aos historiadores não passam geralmente de um convívio com os colegas, de um apontamento num jornal local ou — e esta é a melhor forma de os lembrar — da leitura ou releitura dos seus livros pelos poucos que se atrevem a tentar encontrar as razões da vida de outros tempos e de agora. Nem sequer o funeral de António de Oliveira — neste tempo de coronavírus — permitiu que muitos dos seus companheiros, antigos alunos e admiradores estivessem presentes.
Por isso quis deixar aqui o meu testemunho, porque, na verdade, morreu o meu Último Professor. Fica, porém, a sua Memória.
Figueira de Lorvão, 2 de Janeiro de 2021
[texto publicado originalmente no Jornal Público]